Amor e Liberdade
Bill Hicks, um dos maiores comediantes de stand up do final do Século XX, dizia poucos meses antes da sua morte, num espectáculo apropriadamente apelidado de Revelations, que a vida é como uma viagem num parque de diversões, com altos e baixos, rodopianços para a direita ou para a esquerda, mas uma viagem que podemos mudar a qualquer instante porque se encontra sempre assente numa escolha. Essa escolha, segundo Hicks, está presente a todo e a qualquer momento e consiste numa escolha entre o amor e o medo, uma decisão que cada um de nós toma e que define a forma como vivemos cada momento das nossas vidas. Escolher o amor, para Hicks, implica abrir o peito ao mundo, escolher a liberdade, a sua e a dos outros, bem como, fundamentalmente, assumir e abraçar os riscos da vida; escolher o medo, por oposição, implica fecharmo-nos em casa, escondermo-nos refugiados numa ilusória segurança atrás de sete chaves, e permanecer em ambiente seguro à espera do estafeta da Telepizza. Hicks seria tudo menos um apóstolo de uma religião ou de qualquer particular forma de governo, muito pelo contrário – definia-se como sendo um revolucionário de extrema-esquerda –, mas esta noção de que a vida é sempre, primeiro, uma escolha e, depois, uma escolha entre o medo e o amor, é um postulado ontológico com interessantes implicações filosóficas e, consequentemente, políticas, muito para lá do que, por ventura, o próprio Bill Hicks imaginaria.
A noção de começarmos numa escolha, desde logo, é importante porque implica o livre-arbítrio, a soberania do indivíduo: somos nós que escolhemos a forma como devemos viver a nossa vida e, como agentes responsáveis que somos, somos também nós que colhemos as consequências – os frutos – dessa escolha que fazemos. Liberdade implica responsabilidade. Depois, as hipóteses sobre as quais a escolha se debruça: de um lado, o amor, com a liberdade e o risco que se lhe associa, uma espécie de salto mortale de fé, ou esperança, rumo a um mundo que desconhecemos, mas que abraçamos; do outro, o medo que impele ao controlo, uma cedência ao impulso securitário de recusar o desconhecido e quedarmo-nos por tudo aquilo que já conhecemos, logo que podemos controlar, e que por essas duas razões não representa uma ameaça. O caminho do medo, atente-se, não é o de agir em nome do medo, pelo contrário, é o de fugir dele, de o evitar, de o recusar, em suma: escondê-lo. Ceder ao medo, portanto, implica rejeitar tudo aquilo que possa causar medo, receio ou ansiedade. No entanto, e parece-me que este seria o ponto de partida de Bill Hicks, a vida não pode ser nunca coisa alguma além de uma viagem assustadora, um susto que apenas o amor nos pode convencer a viver. A vida, uma experiência limitada pelo nascimento e pela morte, é algo que nos acontece, que não controlamos: não decidimos o nosso nascimento, a nossa morte (o suicídio é a excepção) ou, sequer, a maior parte das circunstâncias que num mundo tão complexo dão contorno aos nossos caminhos de vida. Crescer e amadurecer implica este reconhecimento: o de existirmos num estado de profunda vulnerabilidade face ao desconhecido, em última instância corporizado na morte que espera inapelavelmente por todos nós no final do caminho. Este reconhecimento, este facto indesmentível, é profundamente perturbante e, precisamente por ser aquilo que de mais cru e firme se pode saber acerca de nós próprios, e da nossa condição, define-nos enquanto seres conscientes. Ora, se nos define isso significa que nos afecta, que nos determina de alguma forma, que nos limita no espaço do mundo, na nossa experiência de vida: sabermos algo definitivo acerca de nós próprios implica levar isso em consideração nas nossas vidas.
Daqui deriva a tal escolha primordial e permanente. Temos uma escolha – uma escolha à qual todos somos forçados, é verdade, mas uma escolha não obstante – porque todos nós ao nos defrontarmos com esse enormíssimo facto que define as nossas vidas, o facto de inapelavelmente as perdermos, somos forçados a lidar com ele, utilizando para isso formas diversas: há quem se tente esquecer, rejeitando a noção, outros há que adiam na ânsia de uma solução transcendente e, também, muitos outros há ainda que por diversas razões acabam por aceitar o facto com naturalidade. É dessa diferença, uma espécie de pluralismo primordial, que deriva a liberdade de escolha: perante a condenação implicada pela nossa partilhada condição humana e, principalmente, pelo medo que essa condição nos inspira a todos, a forma como lidamos com o medo é aquilo que primeiro nos define, já não apenas enquanto humanos, mas enquanto indivíduos. O ser humano sabe que vai morrer, e por isso tem medo; já o individuo tem que lidar com o facto de ser um ser humano e, porque cada um lida como cada qual, é então pela forma como enfrenta esse medo primordial face à condição humana que cada indivíduo se define – perante os outros mas, fundamentalmente, perante si próprio. A escolha de Hicks, então, não será tanto entre o amor e o medo, apesar de também o ser, mas essencialmente sobre a forma como se lida com o medo que, de uma forma ou de outra, nos afecta a todos. A escolha será, pois, entre ceder a esse medo ou, por oposição, superá-lo, ultrapassá-lo, conquistando dessa forma a capacidade para verdadeiramente abraçar a vida. Daqui, advém o carácter do indivíduo. A sua coragem, que todos reconhecemos porque todos partilhamos o ponto de partida existencial, ou a sua cobardia. A sua nobreza, ou a sua fraqueza. Será, portanto, partindo do facto primordial de todos partilharmos esse medo existencial que nascem as virtudes e os defeitos com que caracterizamos o carácter humano: porque todos enfrentamos a vida e a morte, então todos as enfrentamos com maior ou menor coragem, ou com maior ou menor cobardia. Podemos exercer maior cautela e ponderação, tal como podemos impor maior temeridade ou estupidez, no entanto, não existem vários graus de morte e de vida, não há cinquenta sombras de cinzento no que concerne ao fundamento basilar da experiência humana – o cinzento deriva apenas da forma subjectiva como lidamos com esse absoluto –, tal como não há escape possível à dicotomia: por outras palavras, somos forçados à escolha, somos compelidos a enfrentarmos a nossa condição e, consequentemente, a definirmo-nos perante ela.
A primordial escolha entre o medo e o amor é, portanto, uma escolha entre abraçar a vida, e os riscos que lhe são inerentes, ou ceder ao medo de a perder, imobilizando-nos, fechando-nos. A forma como exercemos este acto deliberativo fundacional, mesmo que na maior parte dos casos inconsciente, define-nos enquanto indivíduos, revela o carácter de cada indivíduo tal como a abordagem com que cada um enfrenta a sua vida. O caminho do amor é, portanto, por definição, também o caminho da coragem, até porque pressupõe ainda uma dificuldade acrescida: assumir-se a condição humana como uma inevitabilidade, e com ela os riscos, e os medos derivados desses mesmos riscos, como parte integrante da experiência de ser humano, implica também tomar consciência que o risco é permanente, logo que não basta escolher uma vez. Pelo contrário, a escolha recai perante a experiência da vida, e do medo, logo, permanece a par da condição de existência: se vive, então tem medo de morrer. A perenidade, a caducidade e a mudança são constantes da experiência de vida, pelo que a escolha não apenas é inevitável e forçada, mas também é perpétua e necessariamente repetida a cada instante. Viver de forma consciente, com coragem e nobreza, implica então, primeiro, uma abertura ao mundo, ao desconhecido e ao misterioso e, depois, a tomada de consciência de que essa atitude derivada da escolha não cessa a momento algum, pelo contrário, revela-se numa predisposição para a mudança, para um modo de existir que não é estático, e que apenas é constante no seu perpétuo movimento, na sua ininterrupta e contínua necessidade de reafirmação. A escolha do amor, tal como a pedra de Sísifo, é sinónimo de uma tarefa árdua e repetitiva.
Um indivíduo parte sempre do que não sabe para aquilo que passa a saber. Ora, isto implica enfrentar o desconhecido, o estrangeiro: o caos. O acto consciente é sempre um acto de afirmação perante o desconhecido, um desconhecido que se torna conhecido, logo acomodável, inteligível e, com sorte, controlável. O mero acto de ganhar consciência pressupõe, portanto, o enfrentar do desconhecido por forma a ordená-lo, formá-lo, controlá-lo. Jung apelidava este salto no desconhecido de um chamamento para a aventura, porque aprender implica sempre lidar com aquilo que se desconhece – e, por definição, aquilo que se desconhece pode ser perigoso, logo representa um risco. Assim, não apenas a existência força a aventura, e uma escolha, mas também a existência consciente, aquela que distingue os seres humanos dos demais, aprofunda essa mesma aventura, e essa mesma escolha. O caminho do amor é, então, o caminho da aventura: criar, pensar, agir, postular, em suma: arriscar. E é da aceitação desse chamamento para a aventura, desse chamamento para enfrentar o desconhecido, que deriva o valor e a nobreza da vida humana. Uma vida bem vivida será então uma vida heroica, aquela que conquista terreno ao desconhecido clamando-o para o campo do conhecido, ou seja: o herói que oferece ordem ao caos. Em suma, uma vida boa é aquela que contribui de forma positiva para o aprofundamento do conhecimento humano, seja em que arte, ou parte, for.
Do mesmo modo, também o oposto se pode definir. Ceder ao medo implica, porque esse conhecimento nos assusta, rejeitar a consciência da inevitabilidade da morte e da mudança ou da transformação constante que é a vida. Do mesmo modo, porque o desconhecido amedronta, o próprio acto consciente se torna penoso e, consequentemente, apreendido como perigoso. A infância, precisamente porque é um estado ainda inconsciente e ignorante, representa então o paraíso do qual a maturidade consciente nos quer vir tirar. Daí que a quem escolha o medo, ou seja, quem responda negativamente ao chamamento da aventura, a aventura que através da experiência e do conhecimento progressivo nos trará a maturidade, a esses que vão rejeitando o desconhecido, a maturidade e a consciência do mundo tal como ele é, em nome do conforto e segurança do que já conhecem, a esses a infância aparece como refúgio: o paraíso confortável, sem conflitos ou necessidades de aventuras, onde tudo faz sentido e se conjuga numa realidade eterna, harmónica e imutável. Quem não responder afirmativamente ao chamamento da aventura vai-se agarrando a esse imaginário infantil perfeito e utópico onde o sol brilha na eira e a chuva cai no nabal. No entanto, o mundo é madrasto e, salvo poucas excepções, a dureza da realidade, das coisas tal como elas são, acaba sempre por se impor aos sonhos perfeitos e infantis que estabelecem mundos tal como imaginamos que eles deveriam ser. Aí, o chamamento para a aventura, normalmente sobre a forma de uma tragédia, torna-se irrecusável e a maturidade, ou seja: o reconhecimento da condição humana tal como ela é, força-se sobre os espíritos, mesmo aqueles que por todos os meios foram continuando agarrando-se ao seu imaginário infantil. Mais uma vez a escolha se impõe. E se quem corresponde à tragédia com a coragem de quem abraça o mundo – o caminho do amor que temos vindo a descrever – tende a superá-la, já aqueles que escolhem o caminho do medo, ou seja: aqueles que por receio rejeitam a necessidade de aceitar a realidade da condição humana tal como ela é, a esses sobra o ressentimento: pela dor, pelo medo constante e pela condição humana; em suma: pela desilusão de aquilo que é não ser como eles pensam que deveria ser.
O caminho oposto ao do amor assenta então sobre dois pilares fundamentais: o primeiro, já referido, é o ressentimento de quem não aceita o facto de ter sido forçado a sair do paraíso infantil. O segundo, deriva da actividade consciente, apenas que alimentada pelo medo em vez do amor. Se o amor leva a abraçar o mundo, a enfrentar o desconhecido, já o medo, pelo contrário, leva a separar-nos do mundo, rejeitando-o, a afugentar o desconhecido, a retirá-lo da nossa experiência, a impedir que nos afecte. Isso torna necessário que toda a experiência seja já conhecida, que tenha sido já anteriormente digerida, ou seja: que o mundo esteja já previamente controlado. Ora, apenas aquilo que julgamos controlar se nos revela como conhecido, isto porque aquilo que afugenta o medo, mesmo que de forma apenas ilusória, é precisamente o controlo que julgamos exercer sobre aquilo que nos afecta, ou que nos poderá vir a afectar. No entanto, como se pode controlar aquilo que desconhecemos? Não se pode, e desta evidência se retira a impossibilidade de sucesso desta abordagem perante o mundo: por mais que queiramos exercer controlo sobre o mundo, tal como ao infante a quem foi arrancado o paraíso infantil, mais tarde ou mais cedo o mundo se revelará tal como ele é – e quanto mais ele for rejeitado, quanto mais nos separarmos da sua realidade, pior será o ajuste face ao real, e maior será a tragédia que o revelará. Este foi, por exemplo, precisamente o alerta que, por outras palavras, Burke nos deixou antevendo o trágico desfecho da Revolução Francesa de 1789.
Ressentimento é o combustível e o controlo é a arma de quem tem medo do desconhecido, da aventura para onde a vida nos atira. Assim, o caminho do medo, o do controlo, é igualmente o caminho da tirania pois a única forma de garantir controlo sobre o mundo, no qual se inclui o mundo dos homens, é poder exercer controlo sobre os membros da comunidade. Ora, para controlar é necessário mandar, impor, fazer obedecer. Garantir que os outros obedecem à nossa vontade é, por definição, a única forma de garantir controlo sobre os outros. Do mesmo modo, e tal como a história o demonstra, é tanto maior o tirano quanto mais fraco o indivíduo for: quanto mais ele rejeitar o desconhecido, quanto mais ele ceder ao medo, normalmente sobre a forma da paranoia, mais ele recorrerá ao controlo, ao mando, à força, à tirania. No entanto, o controlo total, por mais que se mate e que se imponha, é sempre impossível. A derrota, e a morte, como a história e o conhecimento da condição humana igualmente o demonstram, estarão sempre garantidas no final do caminho. Reconhecer esse facto – a tal escolha primordial do amor –, precisamente por ser um acto de abdicação, de humildade perante um mundo do qual dependemos e do qual nascemos, um acto de amor portanto, a ser feito a priori poupa também vidas incontáveis.
Uma distinção, no entanto, importa fazer entre a figura do herói e a do mártir. Herói, é aquele que reconhecendo o mundo tal como ele é demonstra ter a coragem para escolher entre as opções que tem pela sua frente, sempre com o intuito de aprofundar o seu conhecimento (e o dos outros) ou a sua condição no mundo (e a dos outros); mártir, é aquele que abdica de escolher ele próprio em benefício do que ele imagina ser o bem de outros. Se é certo que mártires os houve na história da humanidade aos quais muito devemos, no entanto, também não deixa de ser verdade que o martírio não é exemplo de norma, menos ainda quando falamos de vida comunitária: sob a pena de extinção, o martírio será sempre uma excepção, nunca a regra. Escolher o amor não implica o martírio, muito pelo contrário: implica a responsabilidade de lidar com a vida, uma responsabilidade para a qual, muitas vezes, o martírio até poderá representar uma abdicação, quiçá mesmo capitulação.
A história demonstra bem como esta oposição dicotómica na predisposição humana para o medo ou para o amor se revela sempre – e também sempre com os mesmos resultados. Onde a escolha vencedora foi a aversão ao risco, ao desconhecido, uma aposta no controlo, na segurança, na arrogante certeza do conhecido, ou seja, onde o caminho foi o autoritarismo centralizador e dominador, aí sempre acabou por eventualmente revelar-se a separação face ao mundo tal como ele é através da tragédia da miséria e da morte. Do mesmo modo, e por uma evidente oposição, onde o caminho do amor, do respeito pela liberdade, e onde o risco da vida foi celebrado como uma oportunidade para crescer, criar e aprender, ou seja, nas sociedades que ofereceram liberdade aos seus indivíduos, apesar dos altos e baixos que caracterizam a vida, sempre o corajoso enfrentar do desconhecido acabou por gerar os seus frutos: foi nas sociedades mais livres de sempre que foi gerada a maior riqueza de sempre e o maior bem estar para o maior número de pessoas.
Amor implica liberdade – e desta deriva riqueza material, como a história o demonstra, mas também espiritual pois apenas na imersão e conexão de todos e cada um para com o mundo e enfrentando o desconhecido o transcendente se torna possível. Do mesmo modo, medo implica controlo – e deste deriva miséria, morte e destruição material, mas também espiritual: não pode florescer o espírito humano quando aprisionado aos mandos e desmandos de outros seres humanos. Os verdadeiros revolucionários, os indivíduos movidos pela coragem e pela nobreza de carácter, são, portanto, aqueles que querem libertar – porque libertar é um acto de amor. Pelo contrário, todos aqueles que acenando as bandeiras do medo, apelando à segurança, querem exercer controlo, domínio – no fundo: poder – sobre todos os outros, esses não são revolucionários: são uma amálgama de iludidos com cantilenas de paraísos infantis, ressentidos com a coragem dos outros, ou com o próprio mundo e, outros ainda, piores, que anseiam sublimar as falhas que se arrogam a imaginar no mundo impondo a sua vontade sobre ele, ou seja: sobre os outros. No final, de uma forma ou de outra, a este todo uma coisa une: a escolha do medo e a fraqueza que os impede de reconhecer, e aceitar, o mundo tal como ele é. Por alternativa, como Hicks bem à sua maneira lembrava, temos o caminho do amor: revelado num acto de fé, de abertura de cada um ao mundo, e reconhecendo nesta nossa condição partilhada de sermos humanos um ponto de partida para a conquista do desconhecido. Amor, liberdade e coragem são, em suma, os valores maiores desta estranha condição que é ser humano.
[Texto originalmente publicado aqui]

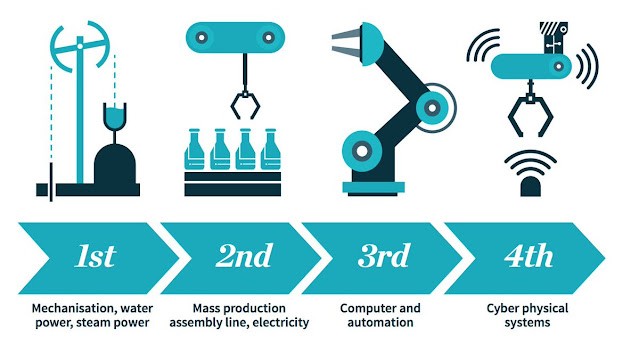

Comentários
Enviar um comentário