No Hospital
[Uma experiência de um amigo num hospital da província, num mês de Fevereiro de crise gripal. Há uns anos já, quando ainda não se falava de covides.]
I
Nos primeiros dois dias a dor cresceu devagar, mas não atribuiu importância ao facto. Dores destas tendem a aumentar, mas o organismo reage, faz o seu trabalho e regenera-se. Deixou, por isso, andar. Aguentou. Ao terceiro dia, porém, a dor crescera para além do expectável. No quarto dia tremia pela casa fora, abstendo-se de sair à rua com medo de colapsar. Por volta das cinco da tarde, rendeu-se. Enfiou as calças e um par de sapatos por cima das peúgas de lã, envolveu o corpo num casacão quente e tudo isto num anoraque cinzento escuro, meteu-se no carro e partiu, aos solavancos e com um terror velado na alma, para o hospital local. Um enorme edifício de sete andares, um paralelepípedo meio arruinado de tijolo desbotado e alumínio incaracterístico, uma antecâmara do Hades que se chamava pomposamente Hospital Distrital e que a população da pequena cidade de província ia odiando em golfadas de impotência, sem se atrever a confessar, por medo de represálias, o sentimento em voz alta. Porque não havia outro hospital na cidade, nenhum Póvoa ou Trofa, nenhum privado. Só havia aquela monstruosidade, que era importante não atiçar, esconjurando-o ou chamando-lhe nomes feios. Isso podia pô-lo de mau humor.
O dia de Fevereiro gelava e começara a nevar quando ele entrou na urgência, depois de uns quinze minutos a estacionar num parque anexo. Quase todo o espaço do parque fora tomado por ambulâncias, que aqui arribavam vindas de um punhado de cidadezinhas próximas e de uma dúzia de vilórias ainda mais pequenas espalhadas num raio de cinquenta quilómetros. O hospital não servia muita gente, que o interior está, como se sabe, quase deserto, mas não havia outro na região, apenas uns esquálidos centros de saúde quase sem equipamento e que se fechavam, por apiedado esgotamento, ao começo da noite. Uma mulher tem um parto mais demorado, e acaba aqui, neste apeadeiro de belzebu, depois de uma viagem de uma hora por curvas e contracurvas. Uma criança faz uma febre maior, que resiste dois dias a um antibiótico, e é escoada para esta sucursal do purgatório num carro de praça aos saltos pelas pregas e buracos das serranias.
Uns minutos de espera burocrática, sim, tenho ADSE, número seis três, não, quatro, é isso, e oitenta e seis, veja o cartão, estou com dores fortes, é essa a morada, não, mudei de telemóvel, agora é este. Posso guardar o cartão? Muito bem, obrigado, sim, esperarei. Mais uns minutos, o nome gritado num tom roufenho na instalação sonora a precisar de manutenção, quase um grito lancinante, o seu nome mal percebido na barafunda de doentes e familiares que se acotovelam naquele átrio, é por ali, a triagem, sim, à direita, segunda porta.
Está deitado numa maca no corredor da urgência, já bem dentro das fauces da avantesma. Por cima da sua cabeça um relógio marca as horas, seis e vinte e quatro, uma variante dos relógios dos caminhos de ferro suíços, desenhados por Hans Hilfiker, mas sem aquela bolinha vermelha no ponteiro dos segundos. As dores são insuportáveis. Já o tinham visto um médico preto, provavelmente angolano, e, depois de uma espera de alguns minutos, durante a qual nada acontecera, um esculápio espanhol que lhe fizera tomar uma mistela aguada num copo de plástico. Se a ideia era apaziguar-lhe o sofrimento, nada feito. O espanhol apalpara-lhe o abdómen, sem excessos de cuidado, após o que se pusera a coçar o nariz, afivelando uma expressão indecifrável. Está, pois, na maca. Com as dores o mundo pulsa e rodopia devagar, um eixo central feito de sofrimento, em torno do qual, como um perverso sistema solar em miniatura, giram esferas luminosas de agonia, vermelhas e azuis e uma ou outra de um branco intenso. Seis e vinte e quatro, diz o relógio. Junto à sua há mais duas macas, os ocupantes enrodilhados nas cores desbotadas da roupa em desalinho e no amarelo das mantas hospitalares. Para além destas macas vizinhas, vêem-se mais macas, e outras para além destas. Ele conta pelo menos uma dúzia, alinhadas ao longo das duas paredes do corredor da urgência. Uma das macas geme, as outras estão num silêncio agourento. Por ali passam, numa procissão incessante, criaturas de bata branca, provavelmente médicos e enfermeiros, e auxiliares de limpeza, de bata azul. Uma das auxiliares imobiliza-se junto dele, inclina-se para apanhar o anoraque tombado, que coloca numa rede metálica na parte inferior da maca. Não convém que isto esteja no chão, diz-lhe a bata azul em voz baixa, não há grande limpeza por aqui.
Limpeza não parece haver, de facto. Por todo o lado se sente o cheiro do hospital, adocicado e morno, um agregado de cheiro a fezes, urina e roupa suja, por sobre o qual se espalha o odor próprio dos desinfectantes e o do ozono dos aparelhos. Um odor que penetra tudo, desde a carne e a roupa das pessoas à comida que é servida nas enfermarias. Este cheiro persegue o desgraçado que calha permanecer no hospital por semanas a fio, mesmo depois de regressar a casa, enquista-se na memória e provoca náuseas que sobrevêm nos contextos mais inesperados.
II
Afinal não são seis e vinte e quatro, pensou, quando o levavam para a Sala (ou seria Unidade?) de Cuidados Intensivos Número Um (UCI 1). Ao fundo do corredor da urgência havia um outro relógio que também marcava seis e vinte e quatro, mas como estivera por ali pelo menos umas boas duas horas a gemer, a remexer-se na maca e a dormitar, ele concluiu que os relógios do hospital estavam com certeza parados. Lembrou-se estupidamente de ter lido há muitos anos atrás um texto do Eduardo Prado Coelho que dizia ter ficado obcecado com um relógio parado num hospital, onde fora conduzido depois de um enfarte ou algo assim. Seria a mesma hora, seriam as mesmas seis e vinte e quatro as marcadas pelo relógio do hospital lisboeta do Eduardo Prado Coelho? Talvez os relógios dos hospitais todos do mundo marquem essa hora, talvez essa seja a hora fatal de cada um de nós, a hora em que nos levam para o outro mundo. Pensou nisso enquanto uma mulher empurrava a maca dele ao longo do corredor e ele observava, mas quase sem ver, outras macas encostadas às paredes e outras pessoas vestidas de branco e de azul, a andarem de um lado para o outro e a falarem à porta de salas iluminadas por uma luz branca intensa. A sala de cuidados intensivos número um era ao fundo do corredor. A placa ao lado da porta dizia isso mesmo, Sala de Cuidados Intensivos nº 1. Meteram-no lá dentro e encostaram a sua maca logo à entrada, num espaço à direita, depois de uma cuidadosa e muito hábil manobra de estacionamento. Deu para ver, graças às idas e vindas da manobra, que a sala era grande e tinha muitas camas altas com equipamento diverso nas cabeceiras. Pareciam estar todas ocupadas. Imediatamente à sua direita, na cama vizinha, estava um homem corpulento, com uma barriga proeminente e um lençol que mal o cobria. O homem estava nu, muito branco numa pele esticada e reluzente, como uma lontra desmesurada, e estava, ao que parecia, a dormir ou inconsciente. Havia uma espécie de cortina de plástico que deslizava num varão e permitia isolar cada cama dos olhares alheios, mas a maioria das cortinas estava corrida para trás e ele podia ver claramente o gordo ao seu lado e podia também ver, se erguesse a cabeça uns dez centímetros, os pés de uma pessoa, aparentemente uma mulher, na cama em frente. Toda a gente tinha uma cama, menos ele, que tinha uma maca, a mesma em que o tinham colocado horas antes no corredor da urgência do hospital.
Durante aquelas horas tinham-lhe dado qualquer coisa a tomar, mas as dores não diminuíam. Antes pelo contrário. Diz-se que o corpo, quando está mal, sinaliza o perigo com a dor, tanto mais intensa quanto maior a urgência. Se é assim, então o perigo seria, no caso dele, muito grande. Às dores ventrais agudas somavam-se agora as de um enjoo maciço, como ele nunca sentira na sua vida. Não eram apenas vómitos, eram convulsões que ameaçavam asfixiá-lo, que pareciam partir do abdómen e deslizar em ondas gigantescas para cima, até à cabeça, e para baixo, até aos pés, como se ele estivesse a afogar-se numa piscina de mercúrio espesso e ardente. Um enfermeiro aproximara-se, dissera-lhe qualquer coisa que ele não retivera, ajeitara-lhe o lençol sobre o corpo em roupa interior e depois afastara-se. Que é que eu tenho, perguntou ele, mas já não fora a tempo, o enfermeiro estava já longe do alcance da sua voz, deslizara rápido para atender outro paciente qualquer, numa outra cama. Havia um som cacofónico na sala, proveniente das máquinas que zumbiam e dos barulhos diversos que os queixumes dos doentes e os movimentos aleatórios dos corpos provocavam. Um zzz de fundo e muitos plancs e arrgs e sacudidelas suspirosas que pareciam provir dos lugares mais profundos daquelas camas. Ou daquelas almas. Olhou em volta com mais atenção. O gordo ao lado dormia sem se mexer. O lençol escorregara para os pés, mas a curva da barriga enorme impedia que se lhe vissem as vergonhas. Provavelmente já não conseguia ver o seu pénis há anos, pensou ele, chocado com a irrelevância e a vulgaridade do pensamento que o acometera. Era uma piada velha que os amigos da sua longínqua adolescência costumavam disparar, rindo-se muito, a propósito dos gorduchos do liceu. Tens uma piça pequena e ainda por cima nem a vês, gritavam. Os buchas, como eram chamados, ficavam humilhados e iam chorar para a retrete imunda do velho liceu. Provavelmente davam em paneleiros mais tarde, por causa disso. Céus, que indignidade, pensou ele. Que miséria humana. Piscou os olhos incomodados com a luz branca do tecto. Se a doença do corpo provoca dores que vêm de dentro, a doença da alma provoca desarmonia no mundo à volta, ruídos e gemidos que vêm de fora. E pensamentos inumanos. Devo estar doente por dentro e por fora, a toda a volta de mim, como um personagem de Carlos Castaneda.
Passou uma hora e passou outra. A dor e o enjoo não diminuíam. Agora, para além disso, viera ter com ele uma dor intensa na nuca, provocada pela dureza da maca e pela ausência de um travesseiro onde pudesse descansar a cabeça. Chegou uma mulher de branco, uma enfermeira talvez, que lhe injectou uma coisa qualquer no braço. Pronto, disse ela, vai-se sentir melhor. Precisa de alguma coisa? Uma almofada, disse ele, para a cabeça. Vou ver se arranjo, respondeu-lhe ela. Passa mais um tempo. Se eu conseguisse vomitar, tenho a certeza de que me sentiria melhor. Mas o vómito, que ele tentava, era seco e sem resultado que se visse. A enfermeira não regressara com a almofada. Que horas serão? Deve ser já noite cerrada, pensou. Passa mais um tempo. Tic, tac, faz o relógio do Eduardo Prado Coelho na cabeça dele. Uma almofada. Porque é que a mulher não volta com a almofada?
O enfermeiro da Sala de Cuidados Intensivos, o único que ele vira por lá até então, está numa roda viva. Vai de cama em cama, os seus sapatos brancos a fazer um som agudo e deslizante no oleado do soalho. Szzt, flop, flop, dizem os seus passos. O gordo da cama ao lado não mexera ainda um músculo ou abrira os olhos, mas eis que de repente a maquinaria na cabeceira da sua cama desata a chamar o universo, como se tivesse acordado de um sono letárgico de séculos com uma revelação e não pudesse manter o segredo por mais um segundo que fosse. Clak, clak, faz ela, clak, clak, clak. O ocupante da cama mexe-se e parece rosnar baixinho. O enfermeiro aproxima-se, deslizando como sobre rodas, inclina-se para ver qualquer coisa na máquina e, assomando à porta da sala, grita para o corredor: Maria, Mariaaaa, chega aqui, estou sozinho, preciso de ti. A Maria não chega. Como se de propósito, toca outra máquina mais adiante, é com certeza uma conspiração, o som vem agora do meio da sala, de uma cama que ele, do lugar periférico onde se encontra, não consegue ver. Mas é um barulho mais baixo e mais ritmado, bolg, bolg, bolg. O enfermeiro gira nos calcanhares e corre para o novo lugar de alarme. A máquina cala-se, passados instantes. Maria, grita o enfermeiro a plenos pulmões. Maria! Mas a Maria não ouve. É agora um Romeu desesperado a chamar a sua Julieta, o pobre enfermeiro abandonado. Julieta! Depois de uma hesitação, o enfermeiro dirige-se para junto do gordo, que parece estar a acordar e se mexe de forma alarmante. Tudo, menos cair da cama, pensa ele. Não caias, o hospital não sobreviveria ao terramoto. O enfermeiro observa-o, toca-lhe como se avaliasse a barriga de uma grávida em trabalho de parto. Volta-se e vai buscar ao meio da sala qualquer coisa que ele não vê, mas que faz, ao ser arrastada, um ruído de chocalho. Ah, é uma mesa de emergência médica. O enfermeiro pragueja abertamente, foda-se, foda-se, diz ele, foda-se. Tem agora uma enorme agulha na mão direita, que brande como um estilete, enquanto procura imobilizar o gordo, que se agita ainda, com a sua mão esquerda. Com tudo isto, o drama e a emergência e o pânico, as dores parecem ter nele desaparecido, como que por magia, e nem sente já a dor de cabeça que antes lhe cindia o mundo ao meio. Dá por si, sem saber como, de pé ao lado da maca, oscilante sobre umas pernas trémulas, e agarrando-se ao tripé de metal do qual pende a garrafa de plástico de soro, agora quase vazia. Posso ajudar, pergunta ele ao enfermeiro? Fazer qualquer coisa? Sei lá, ir lá fora chamar alguém? O enfermeiro olha-o, os olhos dilatados como se tivesse acabado de ver um horror impossível e grita-lhe: por deus, homem, que está a fazer de pé, deite-se, não pode estar de pé, quer que eu tenha de o socorrer a si também? Não vê que estou aqui sozinho? Quer cair? Deite-se! Já!
Contrariado, ele deita-se a custo na sua maca. O enfermeiro enfia a enorme agulha, uma coisa que lhe parece de mais de dez centímetros, no flanco branco e nu do gordo. Um líquido claro começa a correr para o chão e a espalhar-se pelo oleado amarelado. O gordo estrebucha, geme um pouco e imobiliza-se. Passam uns segundos. Um minuto. O líquido corre, batendo no soalho com um silvo característico. O enfermeiro acalma-se e retira a agulha. Ploc, faz esta a sair da carne. Curioso, quase não há sangue. O gordo está parado agora, em paz. A crise parece ter passado.
Foda-se, diz o enfermeiro baixinho. Foda-se. Quase chora. Não está aqui ninguém, repete, como se sonhasse. Está tudo lá fora. Foda-se. Que se passa, pergunta ele ao enfermeiro, porque está sozinho? Neva, diz este, as estradas estão bloqueadas, tivemos acidentes e há muitos pessoal a ir para o Porto com ambulâncias em casos de emergência. E temos pouca gente, por causa do carnaval. Há dias assim. Enfim.
Enfim, pensa ele. As dores, agora que passou a emergência, estão de volta. O enjoo é imenso, cósmico. Ocorre-lhe que é nestas alturas que a ideia da eutanásia parece mais lógica, quase inevitável na sua coerência e na sua natureza de solução final. A vida é dor, dukkha, como dizem os budistas. Tudo é sofrimento. A eutanásia não pode ser um mal, antes pelo contrário. Sonha com a paz e a ausência de sofrimento do nada universal. Deve ser bom. O tempo passa. Se pudesse vomitar, tudo seria melhor. Aproxima-se um médico. Tem um aspecto afável, é um homem dos seus cinquenta anos, com uns olhos compreensivos. Ocorre-lhe que, depois do preto e do espanhol, que aliás nunca mais o visitaram, é o primeiro médico que vê em todas aquelas horas. Boa noite, diz o médico, em português. Como se sente? Mal, responde ele. Dói-me tudo. Calculo, retorque o médico. Estamos a fazer o que podemos. Se eu pudesse vomitar, era melhor, diz ele. Hum, diz o médico. Afasta-se um pouco e vai falar com o enfermeiro. Talvez lhe tenha dito para me darem um emético, pensa ele. O médico regressa, toca no soro, ajusta a torneira de regulação do fluxo. Há alguma coisa mais que eu possa fazer? Uma almofada, diz ele. Não posso com a cabeça. Não tem almofada? pergunta o médico. Vou ver se lhe arranjamos uma. Doutor, diz ele, que se passa comigo, dá para ir embora? Ou pelo menos para ir para uma cama decente? O médico olha-o, pensa um pouco, hesita. Bom, acaba por dizer, o senhor está com um pequeno problema no pâncreas, mas isso estamos a resolver. Tem de ter paciência. Assim que pudermos, levamo-lo lá para cima, para uma enfermaria. Tem de ter paciência, repete. Não há presentemente nenhuma cama livre.
Não há nenhuma cama livre no hospital, e também não há nenhuma almofada livre. A auxiliar acaba de lho dizer, com um ar compungido de desculpa. Estamos com um movimento anormal, e temos uma ruptura de material. Não há nenhuma almofada. Quer falar com alguém da sua família? A sugestão penetra-lhe no cérebro magoado. Quer dizer que posso pedir uma almofada lá de casa? Pode. Olhe, diz ele à auxiliar, telefone ao meu irmão, que mora aqui perto, ele traz-me uma almofada. O meu telemóvel deve estar aí debaixo, junto da minha roupa. É só ligar-lhe.
III
Arranjámos-lhe uma cama, diz-lhe o médico. É na cirurgia, porque a medicina interna não tem nenhuma vaga. Mas o que importa é que vai para um quarto, acrescenta, com um sorriso compungido. Ele olha para a cara sorridente do esculápio e, depois, para além dele, para a cama em frente, onde uma idosa de cabelos brancos jaz adormecida. A realidade recupera, lentamente, as cores habituais, o cinzento e o amarelo que ele associa ao purgatório, quer dizer, as cores do dia a dia. Suspira, satisfeito. Os pensamentos anteriores sobre a eutanásia aparecem-lhe agora exagerados. O cheiro a alfazema da almofada cor de creme e a sensação de alívio provocada por ter por fim conseguido vomitar — uma fita verde que lhe saíra da boca directamente para o chão e que o enchera de um prazer desconcertante — fazem com que a unidade de cuidados intensivos número um lhe pareça um lugar bem aprazível. Não fora aquela dor na nuca e o aperto físico da maca e até que poderia ficar por ali mais umas horas a coligir observações antropológicas. Podia ser pior, pensou. Bem pior.
O médico ajusta o soro. Vejo que lhe acabaram por arranjar uma almofada, diz. Foi o meu irmão que a trouxe lá de casa, informa ele. A auxiliar de bata azul limpara há minutos o chão com uma esfregona, e o doutor, para não patinhar o oleado ainda húmido, fizera deslizar a maca um metro e meio para a frente. Da nova posição ele vê melhor a sala, uma dúzia de camas e um corredor central atravancado por mesas metálicas com diverso equipamento. À esquerda, ao fundo, uma mulher põe-se de súbito a gritar, a encarnação aguda do feminino em desespero. Eles observam o enfermeiro que procura, sem sucesso que se veja, acalmar a paciente. O doutor, esse, não arreda pé. A coisa não é com ele. Gosto desta economia de meios, diz o homem para sim mesmo. É um médico que se sabe organizar e poupa as energias para gastar com os seus doentes.
Há agora mais gente que passa por eles a correr, uma enfermeira e um segurança e um outro funcionário hospitalar que lhe parece, a avaliar pela passada decidida, um maqueiro. Ou talvez seja o porteiro. A mulher esbraceja, num assomo de energia que ele inveja, a cama uma mistura de braços e de pernas brancas e azuis e de lençóis a esvoaçar. O médico empurra a maca para a posição original, bloqueando-lhe a contemplação do espectáculo. Deve ser difícil trabalhar num ambiente destes, senhor doutor, diz ele. Sim, é, suspira o médico. Para nós e para o restante pessoal. Faz-se um silêncio, enquanto se ouvem os estertores finais da peleja lá ao fundo.
Conversam mais um pouco sobre qualquer coisa, não interessa o quê. A conversa distrai-o da dor e do mal estar que está de volta. Não o diz ao médico, com medo de que este mude de propósito e decida mantê-lo mais uns dias na unidade de cuidados intensivos. Sabe, confessa finalmente o médico, estamos com um pequeno problema. Um problema? Sim, há falta de pessoal, de modo que não podemos levá-lo para o sexto piso. Vai ter de esperar um pouco. Quanto tempo, senhor doutor? Não sei, talvez até amanhã de amanhã. Assim que pudermos, levamo-lo para cima. Na maca, claro.
A realidade, que antes parecera querer abrir-se-lhe, volve-se de novo hostil e fria. O cheiro a ozono e a vomitado são de repente insuportáveis. Na maca? Eu posso ir sozinho, senhor doutor, diz ele. Sinto-me bem. Não preciso de ir de maca. Visto as calças e vou consigo a pé. A sério. Se for preciso vou até ao inferno. A sério.
Dormita. Dói-lhe o ventre. O enjoo está de regresso. Passa uma hora, talvez, que o tempo aqui não deixa marcas. Acorda com uma mão a apertar-lhe o ombro esquerdo. É o médico. Quer mesmo ir para cima?, pergunta-lhe este quase em surdina, os olhos inquietos fitando o espaço atrás da sua cabeça. Mesmo? Estremunhado, diz, quero. Quero, claro. Então venha daí. Vamos. A pé.
Que horas são?, pergunta ele enquanto veste as calças. Duas e meia, diz o médico. Traga a roupa. E a almofada. É melhor trazer a almofada. Caminham agora pelos longos corredores gelados da catacumba hospitalar, um labirinto interminável de cotovelos e de portas que se abrem para lá e para cá e que ficam a oscilar quando eles passam, esquerda, direita, direita de novo, um corredor de quinze metros de paredes verde pálido, outra porta, esquerda, em frente agora, direita volver, mais um corredor de uns bons dez metros, os dentes a bater de frio como castanholas, as rodas do suporte do plástico do soro rangendo no silêncio sepulcral da madrugada, é um frio que o estimula e o empurra, o médico carrega sob o braço esquerdo a sua roupa embrulhada numa bola, venha, diz, estamos quase lá, à direita abre-se enfim um hall iluminado que ele reconhece vagamente, é o elevador, uma placa diz para uso do pessoal apenas, interdito a visitas externas, o médico carrega no botão, há uma espera de um minuto, aqui já quase não faz frio, as portas do elevador deslizam e abrem-se para um ventre quente e mole, estamos quase lá, repete o médico sorrindo, subimos para o sexto andar, pzzpp faz o elevador estremecendo docemente, dois três quatro cinco seis, o corredor escuro do piso dos doentes do recobro, uma fila de portas numeradas à direita, os doentes a esta hora que devem certamente estar dormindo, a meio do corredor uma sala iluminada por uma luz pálida de âmbar, uma enfermeira que dali sai, como uma fada que irrompe da crisálida, um sorriso que diz, venha, estávamos à espera, temos a cama preparada, quarto nove, o quarto às escuras uma caverna bem aventurada, a luz do corredor que dá para ver que a cama dele é mesmo junto à porta, deite-se, ajeitam-lhe a roupa que cheira ao fresco do sabão, diz adeus até amanhã, adeus, boa noite, vou tentar dormir, enfim, talvez.

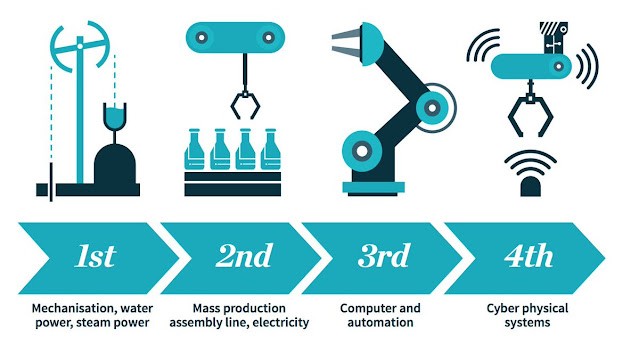

Comentários
Enviar um comentário